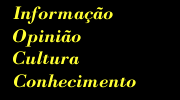| No princípio era o medo
24-10-2014 - Tiago de Sousa
No princípio era o medo. Na infância da humanidade o medo era o que nos ocupava, rodeados que estávamos de sons paralisantes que anunciavam os perigos de um meio hostil e cruel. A sobrevivência estava directamente ligada ao entendimento desses sons e seus significados: a tempestade que se aproxima ao longe na pradaria, o uivo do lobo nas montanhas. Em suma, era o som que anunciava o cataclismo e a morte e era no meio deste caos de sons incontroláveis e de significados diversos, muitas vezes incompreendidos, que o homem começou a sentir necessidade de encontrar uma ordem agregadora dos fenómenos que lhe permitisse vencer o medo; que possibilitasse a edificação de um espaço de intervenção humana que superasse o caos e a imprevisibilidade dos acontecimentos e afirmasse a soberania do Homem no domínio das forças naturais que conspiravam contra si. O ritual, o conjunto de formalidades, imbuídas geralmente de um valor simbólico, cuja edificação é usualmente prescrita e codificada por uma religião ou pelos hábitos de uma comunidade, vai cumprir a tarefa iniciática do controlo do potencial das forças que o rodeavam a partir da ordenação da aleatoriedade da existência.
Nesta era ritualística, foi à organização dos fenómenos e à transcendência dos estados físicos que se dedicou o Homem com o intuito de garantir a sobrevivência da colectividade e do indivíduo. De entre o conjunto de expressões que compõem o ritual, a organização dos sons apresenta-se como elemento essencial na sua mediação. Neste estádio, o Homem buscava ordenar, compreender e, acima de tudo, transcender, por sua vontade, a existência mundana. O ritual atribui causas às desgraças, ordena a passagem do tempo, ascende ao sagrado por via do significado simbólico e atribui toda a origem unificadora das forças naturais à entidade divina que tem como fim último a provação e a protecção da comunidade. É pela sua via que o Homem une o simbólico ao abstracto, a morte à vida, o ritmo à harmonia, o profano ao sagrado.
E assim o Homem iniciou a sua tarefa de dominar tudo o que o rodeia. Lavrou campos onde produzir a comida que necessitava, domesticou os animais selvagens e pô-los ao seu serviço, entendeu a passagem do tempo e as necessidades que este impõe, cultivou a fecundidade e prosperou. A música prosperou com ele. Inaugura-se uma nova ordem civilizacional durante a qual a progressiva emancipação do homem face ao ambiente hostil vai desenvolver as capacidades e ocupações humanas. Cabe ao artesão da música esculpir o tempo, entender as variações melódicas, ensaiar as primeiras formas harmónicas e cimentar as primeiras ideias teóricas e formais. No âmbito desta especialização, surgem novas questões morais e ideológicas em torno do exercício musical e desenvolve-se o seu entendimento racional.
A mitologia e o simbolismo tornam-se insuficientes dada a escassez sensorial no apuramento da verdade fenomenológica. A gravitação da terra em torno do sol diz-nos, a partir da experiência sensorial imediata, que é o sol que gira em torno da terra, esta aparenta ser achatada e todos os corpos celestes parecem girar em seu redor. É só a partir de um conhecimento mais profundo e que podemos aceder à Verdade. Já não chega ao homem atribuir uma causa ao acontecimento, a sua demanda lança-o num novo empreendimento: ele quer saber o como e o porquê.
“Foi pela música que o homem primeiro se apercebeu que os números governam o universo.” diz-nos Pitágoras, o primeiro grande vulto da ciência e da filosofia gregas, que, a partir do estudo do instrumento físico-matemático denominado “monocórdio”, disciplina que aprendeu com os egípcios, vai estudar as relações entre a matemática e a música. O principal contributo deste estudioso para a música será a escala pitagórica, uma sucessão de intervalos de quinta perfeita, que dará origem à escala diatónica, em vigor em toda a música ocidental desde a era medieval até ao século XX.
Para os Gregos, a manifestação musical integrava-se numa obra-de-arte-total a que chamavam A Arte das Musas onde esta aparecia aliada à poesia e à dança. É a partir desta época que o racionalismo subordina o sentimento à verdade científica e é no cumprimento dessas leis científicas que se desenvolve a ordem Canónica. A doutrina socrática defende que a música é fundamental na formação moral dos indivíduos e dos povos. Platão, a principal fonte desta doutrina, fala dos movimentos da alma e da importância da música na sua expressão, defendendo ainda, na sua obra Timeu, que a música é uma arte sublime e que não deve ser admitida como divertimento mas a partir da elevação da sua função nobre educadora do espírito e das paixões, formadora de virtudes cívicas e conservadora dos Estados. (1)
A influência destes princípios fundamentais da civilização grega, como em tantas outras áreas, acompanha a civilização ocidental até aos nossos dias. Será a estes princípios que recorrerá o pensamento renascentista empenhado em defender a sociedade contra o obscurantismo dos anos que o precedem, momento simbolicamente apoteótico nesta luta pela supremacia do mundo civilizado. A música é a ciência dos sons e surge como um novo sujeito artístico que incorpora a ordem unificadora no individuo dotado da capacidade de emanação da ordem, da beleza, da harmonia e das ideias, da capacidade criadora e destruidora. A música acompanha a tendência organizacional da sociedade; erguem-se instituições e afirmam-se os direitos cívicos e sociais do Homem, toda a força governativa é reclamada para o âmbito das actividades humanas. É o momento da disciplina dos saberes científico e artístico(2).
Mas esta era da soberania da Razão é percorrida pela interrogação sobre a origem da natureza benéfica ou maléfica do Homem. Como entender os crimes contra a sociedade ou indivíduos? Será o mal um fenómeno natural? São as emoções a expressão dessa natureza? Confrontado com a objectivação do pensamento científico, o homem vê-se perpetrado por um tremendo vazio. Se a vida é só princípio-meio-fim, se a cada existência individual compete a insignificância e o isolamento no cosmos, qual o significado a atribuir a toda a miríade de expressões de importância tão essencial para cada um de nós e que escapam a essa existência materialista? Nessa confrontação, o regresso à ideia primordial do espírito natural desenvolve a crítica da totalização racional. O Homem apenas difere do mundo natural pelo seu universo psicológico, emocional e ideológico. Não é exclusivamente através da expressão do tangível que se expressa a sua natureza mas principalmente na transcendência do real. Neste contexto, a música ocupa-se de um papel fundamental: a expressão desta dimensão oculta e essencial.
A grande música dos períodos romântico e moderno vai focar-se particularmente na expressão dessa dimensão. O Romantismo vem questionar a ideia de que a verdade pode ser reduzida a axiomas. Considera, em sua alternativa, que certas realidades só poderiam ser captadas através da emoção, do sentimento e da intuição.
É no lapidar entre a especialização e o obscurantismo do mundo íntimo que as mais grandiosas, mais desconcertantes, mais fantasistas e abstractas formas musicais ganham corpo. A dimensão épica, trágica e profundamente sensual expressas em Tristão e Isolda de Wagner, na sinfonia número 4 de Brahms, na sinfonia número 9 de Mahler ou na Fantasia em dó menor para piano de Schumann são alguns exemplos magnificentes das possibilidades abertas pela expressão desta face oculta e emotiva. O Compositor não mais busca apenas a beatitude divina ou a expressão da ordem, da beleza e da harmonia. As marcas da guerra e da barbárie lançam-no numa pesquisa sobre o seu lado oculto e sombrio. A segunda escola de Viena, a de Schönberg, Berg e Webern materializa o signo do compositor maldito. A invenção do sistema dodecafónico de Schönberg materializa através de um sistema serial a sublevação face ao sistema tonal e deixa marcas profundas no movimento Modernista do virar do século.
<<Sabei, pois- disse o orador sentado à mesa -, vós, os bons, os piedosos, que, com os vossos pecados veniais, contais com a mercê e a misericórdia de Dius, sabei pois, que reprimi esta confissão por muito tempo. Escondi os factos sempre no meu íntimo. Agora, porém, já não quero ocultar-vos que desde a idade de vinte e um anos estou casado com Satanás, e com pleno conhecimento do perigo, por maduramente ponderada coragem, altivez e ousadia, almejando conquistar glória neste mundo, dei-Lhe uma promessa e fiz um pacto, de modo que tudo quanto realizei no lapso de vinte e quatro anos, e que os homens, com muita razão, olharam com desconfiança, originou-se unicamente graças à ajuda d’Ele e é obra do Diabo, inspirada pelo Anjo da Peçonha. Pois que eu pensava de mim para mim: quem não arrisca não petisca, e hoje em dia a gente precisa de recorrer ao Diabo, porque para grande empreendimentos e façanhas não há outro senão Ele que as possa empregar e usar.>> (Thomas Mann, Doutor Fausto).
A música e a arte no geral, resultam da tensão e desequilíbrio entre dois espíritos, o de Dionísio e o de Apolo. Nietzsche refere que a sua finalidade é proporcionar uma espécie de consolo metafísico. No que consiste a sua grandeza é na afirmação da vida perante a crueldade e o horror, colocando-se desta forma para além da moral (3). Tal como o Homem se revolta contra Deus, o artista irá sublevar o momento criador contra o cânone.
No exercício desta tensão vão multiplicar-se os discursos e abrir-se um importante caminho para a expressão selvagem, no domínio do instinto, da imprevisibilidade e da abstracção.
O século XX revela novos entendimentos para a actividade sonora. Para John Cage, Morton Feldman e seus pares ela torna-se, mais que a expressão do sensível e do emotivo, mais que a expressão do objectivismo racional, uma actividade com um fim em si mesmo que se manifesta através da recusa da organização do tempo e do espaço e que afirma a experiência musical enquanto uma prática que transcende o exercício discursivo.
Os sons podem ser apreciados para lá da sua humanidade. Sons que deixam de ser psicológicos, emotivos ou racionais mas que são encarados pela sua natureza primordial e contemplativa. A constatação da sua actividade, sem a ânsia da racionalização, permite a experimentação de um estado emocional totalmente desconhecido para o Homem ocidental. A acompanhar a revolução contra o absoluto racionalismo vai expressar-se um crescente interesse pelo primitivismo e as suas manifestações. Para outros como Terry Riley, Steve Reich, Sofia Gubaidulina ou Pauline Oliveros a reminiscência da actividades ritualística ancestral vai abrir portas para a experimentação de novos estados de consciência. Intensifica-se a prática musical de carácter transcendental e mágico.
Na pesquisa da voz interior e do espírito primordial, as possibilidades do criador contemporâneo são entusiasmantes. Capaz de olhar para lá do complexo dogmático, a fruição da obra musical revela-se como a última oportunidade para aceder à verdade da génese criadora. É à ressonância que compete a definição última do momento de verdade. Animada pelos corpos que não só são receptores mas também propagadores de sensibilidade e significado, criando uma identificação empática profunda entre indivíduos que não se conhecem, nunca trocaram uma palavra, mas estão intimamente ligados pelo fenómeno acústico. Conspira contra esta possibilidade a cultura de massas, cuja expressão se apresenta carente de autenticidade, sinal de uma vivência mecanizada, de moral cínica.
A ideia de que existe uma ligação causal entre a proliferação artística e a estabilidade da comunidade acompanha-nos desde tempos imemoráveis. Os Chineses, por exemplo, acreditavam que a música de uma época bem ordenada era calma e alegre, assim como o seu Governo. A música de épocas restritivas é exaltada e agressiva, o seu Governo encontra-se pervertido. A música de um estado decadente é sentimental e triste, o seu Governo encontra-se em risco. Na nossa contemporaneidade, a expressão da decadência, negada desesperadamente, balança entre a confrangente especialização erudita, que relega o espectador ao estatuto de embrutecido, alguém cuja existência o compositor pretende engrandecer apelando à sua salvação com obras cada vez mais intrincadas e crípticas, e por outro lado, uma crescente frivolidade cínica que nos diz que, sendo tudo finito, apenas à fruição imediata compete o propósito da nossa existência.
A prática musical pode ser vista como a quinta-essência da expressão civilizacional de um povo, precisamente porque é a expressão mais clara do gesto profundo de significado e expressividade humana. A cada estado civilizacional significativo associamos um modelo moral de comportamento humano sintetizado neste gesto. Como sabemos, os últimos séculos foram atravessados por um número incontável de estilos e expressões musicais. Se, até ao período do Romântico, a música europeia era a expressão da conduta moral cristã e hereditária dos valores éticos e estéticos da antiguidade clássica, a partir daí, o apelo aos diferentes estados épicos da existência transfigurou e engrandeceu as potencialidades da sua expressão. Nas mais diversas obras encontramos o reconhecimento da condição trágica da existência humana e do seu destino, da necessidade da coragem e serenidade na confrontação com a finitude, e da abertura da possibilidade de um movimento perpétuo que atravessa os tempos e desafia a morte.
A máxima expressão desta prática é aquela que apela ao espírito monumental, de expressão fundamentalmente simples, cuja inspiração desperta o mais variado tipo de pessoas. Aquela cuja essência apresenta-se completamente livre do fardo do artificialismo, do maneirismo e da falsa sofisticação – directa, sincera e sempre original, porque dedicada à originalidade e singularidade da existência do Ser. Nela, toda a superficialidade encontra-se posta em debandada enfatizando os actos heróicos da vida comum e quotidiana. Age, não com o propósito de servir uma comunidade intelectual e crítica, servindo de motivo para o exercício argumentativo, mas impondo a sua identidade existencial contra a dominação e colonização, consciente da sua missão, porque toda a música magnificente, do Requiem de Mozart, à nona sinfonia de Dvórak, do Prelúdio ao Entardecer de um Fauno de Debussy, à segunda sinfonia de Sibelius, transporta em si, consciente ou inconscientemente, o desejo da regeneração da humanidade.
Derrubando a barreira fatídica entre a acção e a não acção, o olhar e o agir, na renuncia da oposição entre o saber do compositor e o não-saber do ouvinte apresenta-se uma outra possibilidade: o entendimento de que ambos se encontram num processo de imanência criativa onde “o espectador compõe o seu próprio poema com os elementos do poema que tem à sua frente”(4). À distância que constrói a desigualdade entre a especialização do compositor e a ignorância do ouvinte opõe-se a igualdade de subjectividades que se encontram na experiência estética. Àquele a quem cumpre a pena sobre a folha de papel branco, todas as possibilidades são dadas. Ao outro, o que escuta, toda a aquisição patrimonial possível. A fruição do nosso mundo íntimo em liberdade e profundidade é o fim último da experiência artística a libertar-se das querelas dos ideístas e dos coisistas (5) e um dos mais significantes e inspiradores traços da actividade humana.
A própria natureza, providencial e generosa, induz-nos estímulos à criatividade que atestam o cariz primordial do exercício estético. Se contemplarmos a magnitude de uma paisagem, observarmos e escutarmos os seus estímulos, conseguimos vislumbrar milénios de expressão artística. Parece pois que a sua mensagem nos induz a um modo estético de experienciar o mundo. “Contempla, fantasia e cria” parece dizer-nos, opondo-se à rotina moderna cuja operacionalização apontam para a produtividade financeira, o objectivismo materialista e a mecanização autómata.
Por Tiago Sousa
Graças à ajuda inestimável de Anabela Bravo e Diana Bragança Almeida
Voltar |